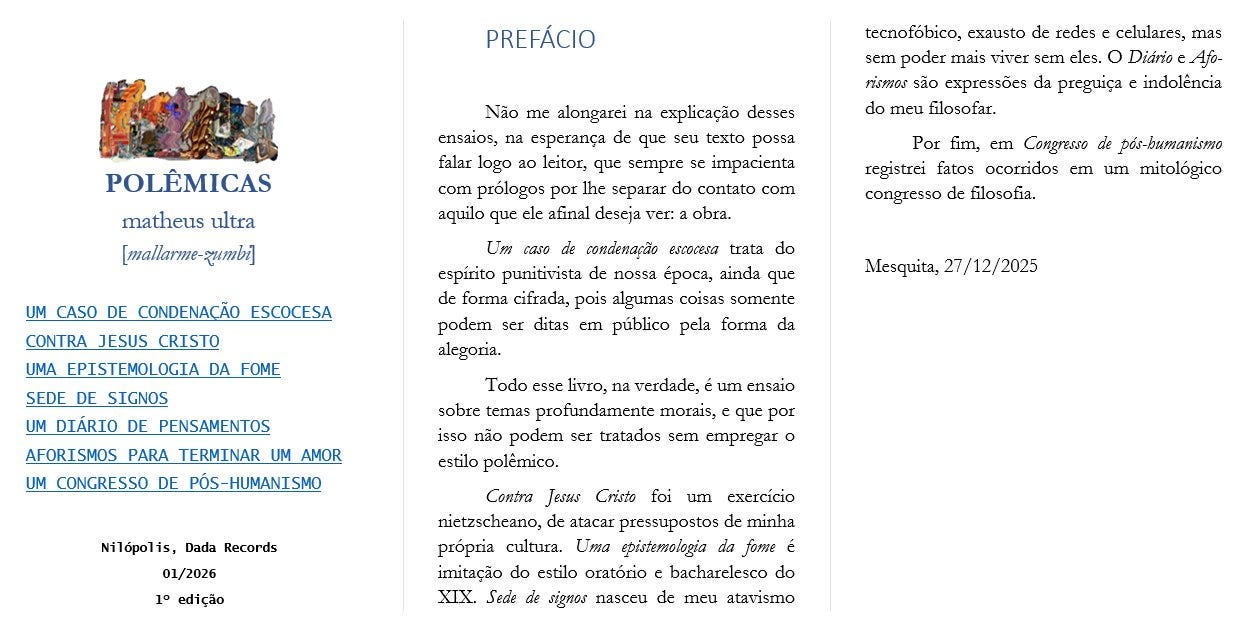MALES DO ARQUIVO
Antinomia entre passado morto e vivo / Limites econômicos da memória / O desejo de esquecimento / Como elaborar objetos traumáticos?
1. ANTINOMIA ENTRE PASSADO MORTO E VIVO
O historiador constrói arquivos, mas esse conhecimento arquivado existe como potência, que só vem à luz ao ser incorporado, por meio do trabalho, a sujeitos e organizações. Em outras palavras, a verdade da historiografia, embora objetiva do ponto de vista do arquivo, depende totalmente da forma como é apropriada e vivenciada no curso dos acontecimentos presentes. Isso nos coloca uma distinção entre o passado morto armazenado nos arquivos e o passado vivo, inscrito na memória, e portanto, capaz de produzir.
Que a História possa ser apresentada enquanto ciência positiva, destinada a revelar a objetividade dos acontecimentos (como nos ensinou a máxima de Ranke, o historiador deve apresentar os fatos conforme e exatamente como ocorreram, depurando a fantasia das ideologias), não modifica-se essa antinomia entre a totalidade dos dados disponíveis e a incapacidade dos seres vivos de assimilar esse volume em sua memória.
É preciso colocar, no plano das reflexões historiográficas, o imperativo da finitude.
2. LIMITES ECONÔMICOS DA MEMÓRIA
Ao dever de guardar a verdade do passado, que o historiador anuncia como sua mais elevada missão, há, no entanto, essa segunda e inevitável natureza de seu ofício,: o historiador não é apenas um profissional da memória, mas também do apagamento.
A multiplicação da informação encontra um limite material: pois todo dado, para que possa vir a se manifestar aos sujeitos do conhecimento, precisa ocupar certo espaço, e portanto, consome uma porcentagem de banda de nossos arquivos.
Reparem: se há um máximo de dados que nossos sistemas mnemônicos podem comportar — sejam orgânicos, como nossa memória nervosa, sejam inorgânicos, como os suportes materiais que gravamos as informações do ocorrido —, todos eles possuem um limite.
Na forma arcaica de papel e pedra ou na forma hi-tech de circuitos eletrônicos, os arquivos encontrarão fim. Seu celular tem limite de memória, os cabos precisam de energia para transferir informações, os livros exigem força para serem escritos, transportados e param quando falta papel, e tudo, finalmente, tende à entropia.
Se existe, portanto, um limite na transferência e no armazenamento de dados, o historiador deve ser também o profissional do apagamento — aquele que decide o que deve ou não ser conhecido sobre o passado. E é aí que o ofício, supostamente neutro e positivista, encontra sua contradição: essa escolha implica valores que não são apenas contingentes, mas vinculam o trabalho do historiador às disputas de poder de seu próprio tempo.
3. O DESEJO DE ESQUECIMENTO
Se o arquivo é um lugar erguido para acumular as excretas da memória, e salvar do esquecimento aquilo que não pode ser guardado no arquivo vivo dos sujeitos, ilhas em que o tempo se conserva separado de todo corpo, uma tal vocação, por si só, deve atestar que nós também não desejamos lembrar do passado. E se o passado não pode simplesmente ser desintegrado (se toda matéria pudesse simplesmente desaparecer segundo o nosso desejo, o planeta não estaria cheio de lixo), ele precisa ao menos ser escondido. Precisamos de espaço para descansar nossa alma do cheiro asfixiante do passado, das memórias malditas que em nós somente pode existir sob a forma dolorosa do trauma.
Poderia se afirmar que a falta, que os psicanalistas imaginam impelir os sujeitos a buscarem um objeto perdido, deva ser complementado por essa sensação de excesso: o apagamento, enquanto necessidade de expulsar de si algum objeto, revela alguma coisa daquilo que o sujeito está cheio, um acúmulo desagradável e venenoso que precisa ser excretado para fora.
Não é por limites técnicos ou econômicos que apagamos o passado; não é por conta da fragilidade dos corpos, o limite de banda ou falta de espaço, ou pelo desconhecimento de uma arte ou ciência superior, capaz de preservar o todo em sua integralidade, que a alma precisa ser esquecida. Antes de qualquer arquivo sequer pressentir o fim de seus pergaminhos, antes de qualquer memória dar qualquer sinal de fadiga pelo acúmulo excessivo de matérias, e a despeito de todo o desejo do conhecimento nada excluir no seu trabalho de conhecer, ele também sempre anseia pelo apagamento: não por acidente, talvez nem mesmo por necessidade, e sim por simples desejo de destruição.
Ela [a pulsão de morte, pulsão de agressão, pulsão de destruição, muda, silenciosamente] destrói seu próprio arquivo antecipadamente, como se ali estivesse, na verdade, a motivação mesma de seu movimento mais característico. Ela trabalha para destruir o arquivo: com a condição de apagar mas também com vistas a apagar seus “próprios” traços - que já não podem desde então serem chamados “próprios”. Ela devora seu arquivo, antes mesmo de tê-lo produzido externamente. Esta pulsão, portanto, parece não apenas anárquica, anarcôntica (não nos esqueçamos que a pulsão de morte, por mais originária que seja, não é um princípio, como o são o princípio do prazer e o princípio de realidade): a pulsão de morte é, acima de tudo, anarquívica, poderiamos dizer, arquiviolítica.
(DERRIDA, J. Mal de arquivo. Op. Cit., pp. 21 – 22).
4.COMO ELABORAR O OBJETO TRAUMÁTICO DO PASSADO?
Se me pedissem uma definição do trabalho do historiador, diria que ele é um intermediário entre o espaço morto dos arquivos e as potências que circulam no mundo da vida, algumas vezes sob a forma de disputas políticas e culturais.
É como advogados de diferentes secções do poder que os historiadores travam seus embates. Esse era o ponto que, desde o princípio, queria chegar: a metodologia do historiador será sempre incompreendida se dela for retirado seu caráter ritualístico, muitas vezes assimilado aos ofícios dos tribunais.
Os historiadores, afinal, não estão apenas argumentando entre si para eleger a representação mais exata do passado; seus trabalhos, ao se integrarem ao mundo, perpassam as mais variadas disputas ideológicas. Causam tensões e euforias das mais variadas, ao ponto de, muitas vezes, se organizarem verdadeiros julgamentos perante o seu discurso (relembremos, por exemplo, casos insignes como o holocausto nazista, ou os muitos crimes cometidos por militares durante suas ditaduras, que ainda hoje reúnem multidões ao redor de seus certames).
Quando se fala, por exemplo, do caráter de Stalin, ou da exploração da mão de obra operária na Inglaterra, começamos a tocar em assuntos que, direta ou indiretamente, tocam os nervos de nosso mundo presente. É claro que, dentro do campo profissional, surgem questões aparentemente pueris ou desinteressadas — discussões sobre autoria de um documento, interpretação de uma passagem, podem parecer separadas de qualquer macrocosmo ideológico. Um historiador pode, de fato, dedicar mais paixão a esses temas do que àquilo que, no mundo da vida, gera maior comoção. Mas a verdade é que essas questões, embora justas e importantes para o ofício, tornam-se francamente insignificantes perante esses objetos quentes, que mobilizam grandes investimentos libidinais de toda a sociedade.
Nem toda classe de objeto se equivale: há coisas que, ao ressoarem em nós, nos enchem de emoções e pensamentos. E o historiador que trabalha com esse tipo de objeto, ainda que possa viver alheio e autista no passado, terá sempre que medir suas palavras ao falar ao presente — porque os corpos vivos, quando forem tocados pelos seus mortos, irão estremecer.
Meu novo livro está custando apenas R$ 10,00. Basta enviar um PIX para mallarmezumbi@gmail.com e encaminhar o comprovante para o mesmo e-mail.
Ou, ASSINANTES QUE APOIAM MEU TRABALHO e assinam meu substack também recebem sua cópia digital como conteúdo exclusivo.